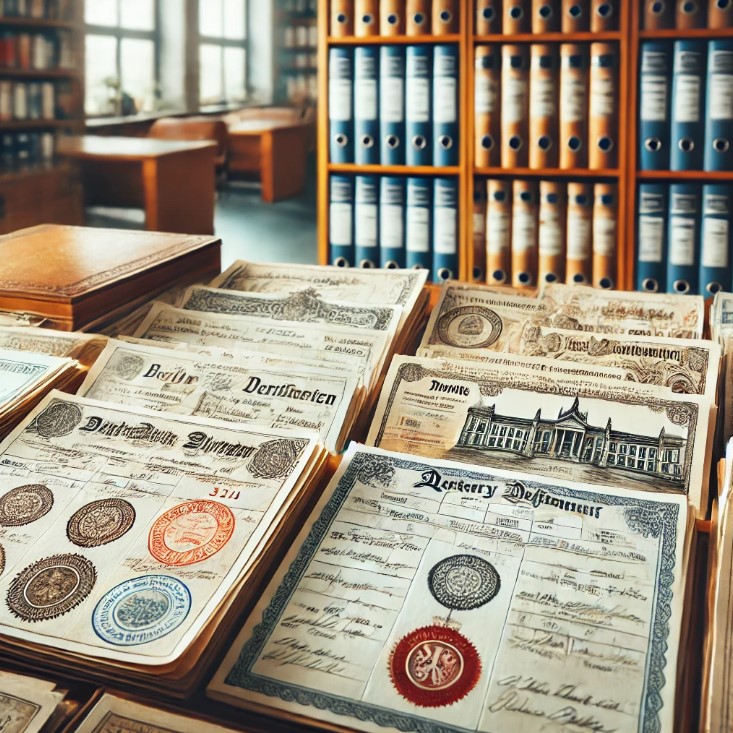A guarda compartilhada, desde a promulgação das Leis nº 11.698/2008 e nº 13.058/2014, tornou-se a regra no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, sua aplicação tem enfrentado resistência, muitas vezes impulsionada por disputas emocionais entre os genitores. Este artigo examina os aspectos jurídicos que tornam a guarda compartilhada uma imposição legal mesmo diante de conflitos parentais, desmistificando a necessidade de consenso e evidenciando estratégias danosas utilizadas para frustrar sua implementação.
A natureza jurídica da guarda compartilhada
Nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. Esse dispositivo afasta qualquer exigência de consenso prévio entre os genitores como condição para a fixação da guarda conjunta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido. No REsp 1.591.161/SE, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou que a guarda compartilhada “não se sujeita à transigência dos genitores ou à existência de naturais desavenças entre cônjuges separados”, reforçando que o parâmetro central da decisão judicial deve ser o melhor interesse da criança.
Desavenças parentais: obstáculos reais ou artificiais?
Frequentemente, o genitor que exerce a guarda de fato — ou aquele que tem maior tempo de convivência com o menor — age de maneira a dificultar a implementação da guarda compartilhada. Essa conduta, por vezes, inclui provocar desavenças ou criar situações de litígio, justamente para alegar que não há ambiente propício à convivência harmônica exigida pela modalidade compartilhada.
Tal comportamento deve ser analisado com rigor pelo Judiciário, pois esconde uma tentativa de manipulação do sistema jurídico com objetivos alheios ao bem-estar da criança, como o controle exclusivo sobre decisões relevantes da vida do menor ou até mesmo a busca por vantagem econômica.
O princípio do melhor interesse da criança
A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em diversos dispositivos, estabelecem como prioridade absoluta o melhor interesse do menor. Esse princípio deve orientar qualquer decisão judicial que envolva a guarda.
Doutrinadores como Maria Berenice Dias ressaltam que “a guarda compartilhada é o reflexo mais fiel do que se entende por poder familiar”, pois garante efetiva participação de ambos os pais na formação da criança, evitando que a convivência com um dos genitores se reduza a meras visitas esporádicas (DIAS, Manual de Direito das Famílias, RT, 10ª ed., p. 525).
Jurisprudência consolidada
Além do REsp 1.591.161/SE, o STJ já decidiu reiteradamente que “a litigiosidade entre os pais não impede a fixação da guarda compartilhada” (REsp 1.428.596/RS, Min. Nancy Andrighi). Conforme consta no voto da relatora: “A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais […] é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal letra morta”.
A Corte ainda enfatizou que o não deferimento da guarda compartilhada com base exclusivamente em conflitos entre os genitores viola o art. 1.584 do Código Civil, pois “prioriza a existência ou não do litígio entre os genitores, e não a busca pelo melhor interesse do menor”.
Conclusão
A guarda compartilhada, sendo a regra legal, não pode ser afastada por conveniências subjetivas dos genitores, especialmente quando utilizadas como manobra para obtenção da guarda unilateral. O Judiciário deve exercer vigilância ativa para que o instituto não seja esvaziado por práticas desleais que comprometem o desenvolvimento emocional da criança e afrontam o princípio da corresponsabilidade parental.